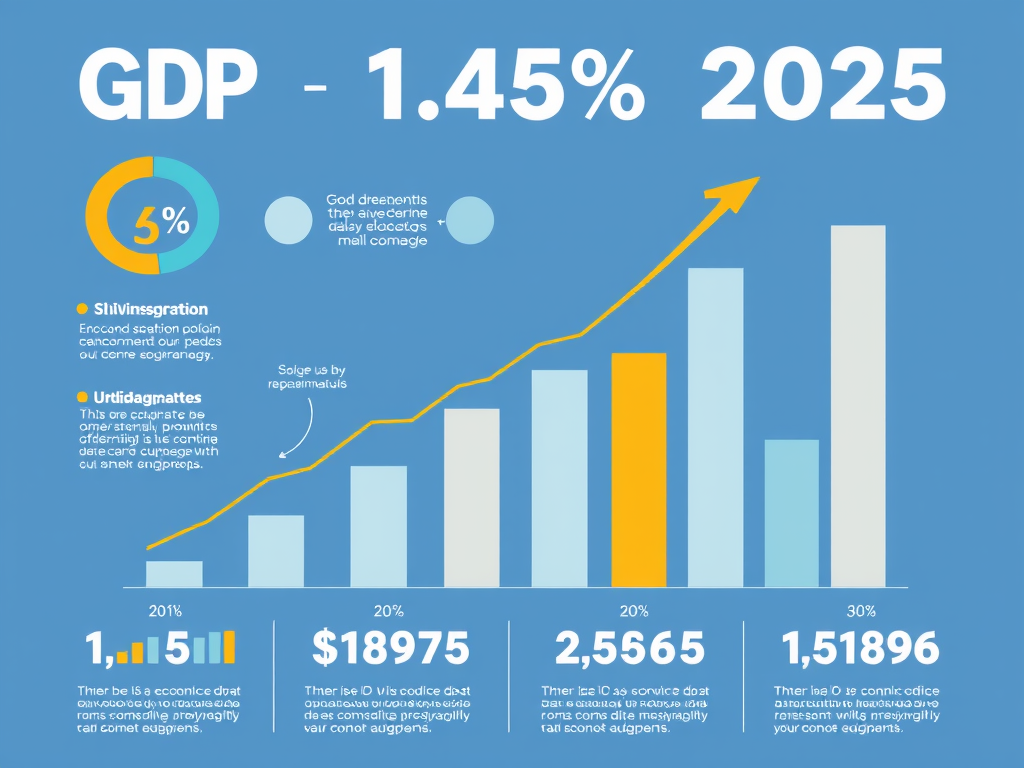por Regina Papini Steiner
Em 2025, o cinema brasileiro não apenas sobrevive, ele resiste, se reinventa e floresce. Após anos de sufocamento político e cortes de incentivo, a produção nacional volta a ocupar seu lugar de direito nas telas e no imaginário popular. Com narrativas plurais, estéticas ousadas e uma identidade cada vez mais enraizada na diversidade do país, o audiovisual brasileiro prova, mais uma vez, que cultura não é gasto — é investimento, é força.
Não foi fácil chegar até aqui. O setor enfrentou uma longa travessia marcada por desmontes de políticas públicas, desmonte da Ancine, censura velada e desvalorização simbólica. O resultado foi um apagão produtivo que paralisou projetos, fechou salas de cinema e afastou talentos. Mas o cinema nacional, teimoso por natureza, encontrou meios de continuar contando suas histórias.
A chegada de 2025 marca uma virada. Com a retomada de editais, reestruturação do Fundo Setorial do Audiovisual e o fortalecimento de políticas regionais, o país vê surgir uma nova safra de produções. Filmes que saem das grandes capitais e encontram eco nas periferias, nos interiores, nas “Amazônias”, tanto geográficas quanto simbólicas.
É um cinema mais negro, mais indígena, mais LGBTQIA+, mais feminino. Um cinema que incomoda e emociona, que discute violência, amor, memória e pertencimento. Ao mesmo tempo, há espaço para o humor, para o drama popular, para o terror autoral. As bilheterias ainda não voltaram aos níveis pré-pandemia, é verdade. Mas o que falta em números, sobra em relevância.
Plataformas de streaming continuam a ser parceiras e, ao mesmo tempo, desafios. A presença de produções brasileiras nesses espaços cresce, mas o controle algorítmico sobre o que chega ao público exige vigilância constante. Democratizar o acesso ao audiovisual vai além de estar disponível online, é garantir visibilidade, formação de público e políticas de fomento permanentes.
O cinema brasileiro de 2025 não quer apenas sobreviver ,quer ser celebrado. E para isso, é preciso que o público abrace sua própria história. Que vá ao cinema, que assista às produções nacionais, que defenda a cultura como parte do que somos. Porque, em um país onde tantas vezes tentaram silenciar vozes, cada filme é também um ato de afirmação.